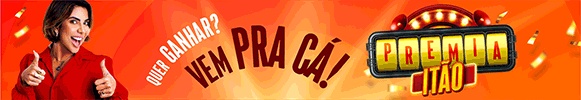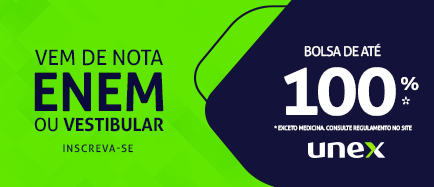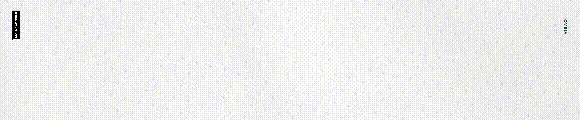Tempo de leitura: 3 minutosMarcos Coimbra, para o Correio Braziliense
As eleições são muitas coisas na vida de um país, desde um salutar reencontro dos cidadãos com sua capacidade de ação, limitada pela complexidade do estado moderno, até uma oportunidade para avaliar sua trajetória recente, quando os eleitores decidem o que nela deve ser mantido e o que deve ser mudado. São mais que uma troca da pessoa que está à frente do governo.
Votar em um candidato a presidente é se pronunciar sobre um amplo conjunto de questões, importantes para o presente e o futuro da sociedade. Não é surpresa, portanto, que seja um ato que causa ansiedade e tensão na maioria das pessoas, tanto maior quanto menos informadas elas se sentem para tomar a melhor decisão.
Nossa experiência com eleições presidenciais democráticas é, lamentavelmente, pequena. Nem dá para falar nas que tivemos antes de 1930, pelas restrições severas ao sufrágio. Há 100 anos, por exemplo, Hermes da Fonseca se elegeu presidente da República com o voto de 400 mil eleitores (todos, aliás, do gênero masculino, pois as mulheres eram proibidas de votar). Rui Barbosa, seu oponente, teve 200 e poucos mil. Somados, fizeram menos que os eleitores de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, o 15º município brasileiro em termos de eleitorado.
Depois do Estado Novo e antes da redemocratização, só fizemos quatro eleições presidenciais. Comparadas às da República Velha, foram mais abertas, mas ainda cheias de limitações, pois jovens e analfabetos não podiam votar e os partidos de esquerda estavam proibidos. Se pensarmos que se passaram 90 anos entre a primeira eleição direta (a de Prudente de Morais) e a vitória de Tancredo, é muito pouco.
Quando, após a Constituição de 1988, voltamos a eleger presidentes pelo voto dos cidadãos, foi como se começássemos do zero. Havia, é verdade, uma parcela do eleitorado que tinha memória de haver votado antes, mas era pequena, menos que 10% dos que estavam aptos em 1989. A imensa maioria das pessoas não fazia idéia de como escolher um presidente.
A dificuldade aumentava pela ausência de identidades políticas estruturadas. A ditadura não havia apenas suprimido o direito de voto, mas cerceado a organização partidária, extinguindo os velhos partidos e inventando outros, distantes de nossa cultura política. O novo sistema partidário que emergiu com seu fim estava em seus primórdios, com todos os problemas da primeira infância: excesso de siglas, volatilidade, não-diferenciação, infidelidade doutrinária, migração errática dos eleitos de um partido para outro.
Em um sistema como esse, a saída para o cidadão era criar seus próprios critérios de escolha. Privado do aprendizado que vem da experiência e sem ter como referência organizações partidárias estáveis (e confiáveis), só lhe restava chamar a si a responsabilidade integral de identificar “o melhor”, dentro do cardápio que o sistema político oferecia.
Até o final dos anos 1990, um tipo de depoimento se repetia nas pesquisas qualitativas, traduzido em uma imagem: o “olho no olho”. As pessoas diziam que escolhiam candidatos “olhando em seus olhos” na televisão, procurando identificar sua honestidade, sua sinceridade, se tinham ou não bons propósitos. Pobres e ricos, jovens e velhos, com maior ou menor escolaridade, todos concordavam com essa ideia absurda. De que, magicamente, enxergariam a verdade dos candidatos lá onde ela menos se revela, na televisão.
Uma das coisas boas da democracia é que ela avança. Com o tempo, os cidadãos amadurecem, aposentam mitos e deixam ilusões para trás. Hoje, cada vez menos se fala no “olho no olho”. Cada vez mais, os eleitores percebem que a escolha de um presidente não é um desafio íntimo, a procura épica de um “melhor” idealizado, à qual se segue a epifania de uma descoberta.
Escolher candidatos se tornou mais simples: olhar o que representam, de que lado estão, qual é sua turma. Podendo, também comparando o que faz cada lado, cada turma, quando governa.
Marcos Coimbra é sociólogo e presidente do Vox Populi.