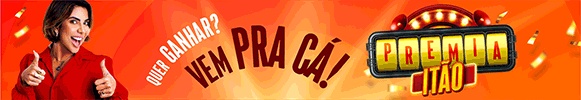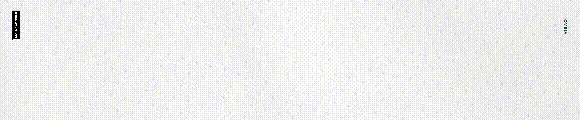FICAR DIANTE DA TEVÊ É LEVAR “PEDRADA”
“Com a bandeira a meio mastro…” – assim a repórter da Globo iniciou, no Jornal Nacional do dia 29 de março, a matéria sobre a morte do ex-vice-presidente José Alencar. É impressionante como não posso permanecer uns poucos minutos diante da tevê sem levar alguma pedrada: a expressão “a meio mastro” inexiste na língua portuguesa ou na fala brasileira, seja no coloquial, seja abrigada na dita norma culta. É invenção descabida, artificial, dispensável, ociosa, inútil. A velha expressão, consagrada em todos os níveis da linguagem (para indicar que a bandeira, em sinal de luto, foi hasteada pela metade) é “a meio pau”. Que o digam os dicionários.
SANDICE QUE JÁ VAI COMPLETAR SETE ANOS
 Antigos ou modernos, os dicionários da língua portuguesa anotam, para a situação referida, “a meio pau” (no verbete pau), nunca “a meio mastro” (que deveria guardar-se no verbete mastro). A sandice foi ouvida pela primeira em 11 de novembro de 2004 (Marcos de Castro – A imprensa e o caos na ortografia), quando o correspondente da Globo em Jerusalém, a propósito do luto pela morte de Arafat, falou em bandeira hasteada “a meio mastro”. Quase sete anos depois (abril de 2011), percebo que a agressão se mantém – certamente sob a justificativa de que “a meio mastro” é expressão mais bonita do que “a meio pau” (isto é usado para récorde e recorde).
Antigos ou modernos, os dicionários da língua portuguesa anotam, para a situação referida, “a meio pau” (no verbete pau), nunca “a meio mastro” (que deveria guardar-se no verbete mastro). A sandice foi ouvida pela primeira em 11 de novembro de 2004 (Marcos de Castro – A imprensa e o caos na ortografia), quando o correspondente da Globo em Jerusalém, a propósito do luto pela morte de Arafat, falou em bandeira hasteada “a meio mastro”. Quase sete anos depois (abril de 2011), percebo que a agressão se mantém – certamente sob a justificativa de que “a meio mastro” é expressão mais bonita do que “a meio pau” (isto é usado para récorde e recorde).
FALTA DE LEITURA, EXCESSO DE REPETIÇÃO
 Todo professor de cursinho intensivo de redação aprendeu a fórmula que deve ser passada aos alunos: “”Leiam, leiam, leiam…” – mas que pouco resultado dá. O leitor sem maior conhecimento da área de comunicação tende a pensar que os operadores do setor lemos muito. Pura falácia. Nas redações, lê-se pouco, tendo como motivo a falta de tempo, não sendo raros os casos de indivíduos que abriram o último livro há alguns anos, ainda na escola, por insistência de um professor chato. Em consequência, não se pensa, repete-se muito, sobretudo asneiras avalizadas pela Globo – a exemplo dessa injustificável “bandeira a meio mastro”, já a caminho da consagração.
Todo professor de cursinho intensivo de redação aprendeu a fórmula que deve ser passada aos alunos: “”Leiam, leiam, leiam…” – mas que pouco resultado dá. O leitor sem maior conhecimento da área de comunicação tende a pensar que os operadores do setor lemos muito. Pura falácia. Nas redações, lê-se pouco, tendo como motivo a falta de tempo, não sendo raros os casos de indivíduos que abriram o último livro há alguns anos, ainda na escola, por insistência de um professor chato. Em consequência, não se pensa, repete-se muito, sobretudo asneiras avalizadas pela Globo – a exemplo dessa injustificável “bandeira a meio mastro”, já a caminho da consagração.
PISTOLEIROS NÃO ENXERGAM BEM NO ESCURO
 Vejo em jornal de Itabuna, com referência a improvável embate nas urnas entre os ex-prefeitos Geraldo Simões e Fernando Gomes, a expressão “duelo ao pôr do sol”. Frases feitas e expressões consagradas (bebidas em literatura, cinema, música ou no seio do povo), desde que não resvalem para o lugar-comum, são de grande utilidade. Se é válido o cotejo, digo que elas adornam o texto como um colar de pérolas no colo de uma dama. Mas houve, parece-me, um equívoco: duelos não ocorrem “ao pôr do sol”, hora em que o atirador não enxerga bem, mas “ao sol”. Por certo versado em cinema, o redator parece ter embaralhados na memória Duelo ao sol/1946 e O último pôr do sol/1961.
Vejo em jornal de Itabuna, com referência a improvável embate nas urnas entre os ex-prefeitos Geraldo Simões e Fernando Gomes, a expressão “duelo ao pôr do sol”. Frases feitas e expressões consagradas (bebidas em literatura, cinema, música ou no seio do povo), desde que não resvalem para o lugar-comum, são de grande utilidade. Se é válido o cotejo, digo que elas adornam o texto como um colar de pérolas no colo de uma dama. Mas houve, parece-me, um equívoco: duelos não ocorrem “ao pôr do sol”, hora em que o atirador não enxerga bem, mas “ao sol”. Por certo versado em cinema, o redator parece ter embaralhados na memória Duelo ao sol/1946 e O último pôr do sol/1961.TRAGÉDIA GREGA NAS PRADARIAS DO OESTE
 Os dois têm pontos comuns (além da presença de Joseph Cotten): diferentes do faroeste habitual, melodramáticos e com clima de tragédia. Tanto em Duelo ao sol/King Vidor quanto em O último pôr do sol/Robert Aldrich há uma pitada de Shakespeare (Romeu e Julieta), enquanto o segundo nos remete também a Eurípedes (Electra). Um final trágico, de formas diferentes, aguarda os protagonistas em ambos os filmes. As direções e elencos são de primeira: em Duelo…, Vidor trabalha com Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten e Lillian Gish; Aldrich, em O último…, comanda Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy Malone e o mesmo Joseph Cotte.
Os dois têm pontos comuns (além da presença de Joseph Cotten): diferentes do faroeste habitual, melodramáticos e com clima de tragédia. Tanto em Duelo ao sol/King Vidor quanto em O último pôr do sol/Robert Aldrich há uma pitada de Shakespeare (Romeu e Julieta), enquanto o segundo nos remete também a Eurípedes (Electra). Um final trágico, de formas diferentes, aguarda os protagonistas em ambos os filmes. As direções e elencos são de primeira: em Duelo…, Vidor trabalha com Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten e Lillian Gish; Aldrich, em O último…, comanda Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy Malone e o mesmo Joseph Cotte.UM GÊNERO FEITO DE GRANDEZA E HEROÍSMO
Diante desse aparente empate, eu me volto para O último pôr do sol, que os críticos apontam como um filme menor de Aldrich, talvez um nota 7 entre seus mais de 30 trabalhos, alguns nota dez, como Os doze condenados/1967. Já se vê que minha opinião é pessoal, intransferível e nada técnica. O western é feito de tipos impregnados de grandeza e heroísmo, ética, bravura e nobreza; o caráter dos personagens de Jones e Peck me desagrada, a sordidez do mocinho bandido não me atrai: não vejo cinema como reflexo do real, mas como fuga, uma forma de escapismo romântico. Talvez seja por isso que Tropa de elite não me empolga. De cruel já me basta o dia a dia.
A BAHIA E NOSSAS “VOCALISTAS ANÔNIMAS”
 Dia desses, um crítico mal informado lamentava-se da falta de grandes vocalistas negras na MPB. Sua comparação lacrimosa era com os Estados Unidos, o que, à primeira vista, lhe dá razão. Mas só à primeira vista. É claro que não temos Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Dinah Washington e Carmen McRae (que são patrimônio dos estadunidenses), mas somos a terra de Rosa Passos, Virgínia Rodrigues, Márcia Short e da ilheense Clécia Queiroz. Se a Bahia e o Brasil não apóiam essas artistas – cujo mercado está mais no exterior do que entre nós – é outra história.
Dia desses, um crítico mal informado lamentava-se da falta de grandes vocalistas negras na MPB. Sua comparação lacrimosa era com os Estados Unidos, o que, à primeira vista, lhe dá razão. Mas só à primeira vista. É claro que não temos Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Dinah Washington e Carmen McRae (que são patrimônio dos estadunidenses), mas somos a terra de Rosa Passos, Virgínia Rodrigues, Márcia Short e da ilheense Clécia Queiroz. Se a Bahia e o Brasil não apóiam essas artistas – cujo mercado está mais no exterior do que entre nós – é outra história.TERRA DO GARAGEM E DO CAMISA DE VÊNUS
 A visão de que a Bahia pós Caymmis, Caetano, Gil e Tom Zé só produz submúsica de trio elétrico é outro equívoco. Aqui foram registradas poderosas incursões no instrumental e no pop brasileiro: no primeiro, destaque para o jazz do grupo Garagem (em atividade há mais de trinta anos); o segundo tem como principal representante o Camisa de Vênus (com quase igual longevidade, apesar de alguns períodos de saída e regresso aos palcos). E mesmo quem, como eu, não é especialista, sabe que, além das deusas eleitas pela mídia, aqui se faz arte, arte baiana e negra, sobretudo.
A visão de que a Bahia pós Caymmis, Caetano, Gil e Tom Zé só produz submúsica de trio elétrico é outro equívoco. Aqui foram registradas poderosas incursões no instrumental e no pop brasileiro: no primeiro, destaque para o jazz do grupo Garagem (em atividade há mais de trinta anos); o segundo tem como principal representante o Camisa de Vênus (com quase igual longevidade, apesar de alguns períodos de saída e regresso aos palcos). E mesmo quem, como eu, não é especialista, sabe que, além das deusas eleitas pela mídia, aqui se faz arte, arte baiana e negra, sobretudo.ALOBÊNED, O FURACÃO NEGRO DE ITABUNA
 E para dizer que não falei de flores itabunenses, afirmo me faltar engenho e arte para saber se Alobêned é ou não uma grande cantora (dúvida que mantenho quanto a Maria Betânia, mas nunca tive a respeito de Gal). Sei é que esse furacão negro (assim como Betânia é uma estrela acima de qualquer suspeita) é uma força da natureza, uma rainha além da preferência de meros mortais como este colunista. Se querem compará-la, não sugiro as três cantoras brancas xodó da mídia, mas outra monarca africana: Margareth Menezes. Findo meu espaço, provoco: Quem sabe a razão do nome Alobêned?
E para dizer que não falei de flores itabunenses, afirmo me faltar engenho e arte para saber se Alobêned é ou não uma grande cantora (dúvida que mantenho quanto a Maria Betânia, mas nunca tive a respeito de Gal). Sei é que esse furacão negro (assim como Betânia é uma estrela acima de qualquer suspeita) é uma força da natureza, uma rainha além da preferência de meros mortais como este colunista. Se querem compará-la, não sugiro as três cantoras brancas xodó da mídia, mas outra monarca africana: Margareth Menezes. Findo meu espaço, provoco: Quem sabe a razão do nome Alobêned?
NA POLÊMICA, VOU DE VIRGÍNIA RODRIGUES
Quando o Carnaval da Bahia entra em discussão, vou de Virgínia Rodrigues, uma das grandes vocalistas baianas “malditas”: lançou seu primeiro CD em 1997 (Sol negro), tendo as bênçãos de Caetano Veloso (direção), Gilberto Gil, Milton Nascimento e Djavan (participações) – e ainda assim se mantém quase “ilustre desconhecida”. É “uma das mais impressionantes cantoras que surgiram no Brasil nos últimos anos” – isto não foi dito pela crítica brasileira, mas pelo The New York Times. Na minha modesta cedeteca há ainda Mares profundos (com temas de Baden Powell) – “importado”, évidemment. Clique.
(O.C.)