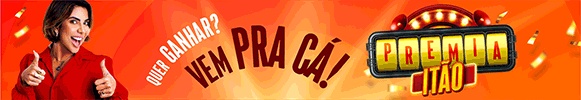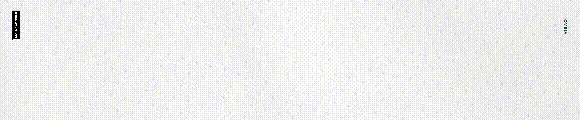Um dia, de frente pro espelho, do nada dei de procurar o sujeito que eu achava que era. Meia hora ali, em uma extenuante busca, e ele não estava lá. Em seu lugar, um quase estranho, feio e esquisito, desses que a gente sempre vê de relance e que nunca chega a saber verdadeiramente quem é.
 Rodrigo Melo
Rodrigo Melo
Uruçuca é um remanso. Não há turistas com camisas floridas e protetores solar andando por suas ruas, muito menos hipsters com tatuagens e barbas cultivadas, nem surfistas, skatistas ou alpinistas, e acho que também nunca vi um policial em patrulha. Na verdade, lembro desse único que frequentava o dominó dos velhotes na praça, mas ele não usava arma nem colete e passava os dias por ali, fechando uma partida após a outra. Outro fato curioso é que uma boa parte da população, feito em várias outras cidades, não usa máscaras: os pontos cheios, o carrinho do pastel rodeado de gente, e todo mundo naquele esquema de conversar e soltar perdigotos sem parar. É como se a cidade tivesse parado em algum dia em 1976 e ainda continuasse lá, preservada em um tipo de inocência que não serve pra muita coisa, a não ser que o sujeito seja um enviado de Deus, tenha desistido ou esteja prestes a desistir. E era justamente desse jeito que eu andava, não como um enviado de Deus, mas parecido com um quase desistente, e até continuaria assim, não fosse essa ventura que veio através do que lá fora chamam de wake up cool ever – acho que é isso -, que significa, basicamente, uma chamada de consciência absoluta. Um dia, de frente pro espelho, do nada dei de procurar o sujeito que eu achava que era. Meia hora ali, em uma extenuante busca, e ele não estava lá. Em seu lugar, um quase estranho, feio e esquisito, desses que a gente sempre vê de relance e que nunca chega a saber verdadeiramente quem é.
Mas então eu estava com algumas sacolas de mercado nas mãos, caminhando até a banca de cigarros, quando, ao passar pela porta de um estabelecimento, alguém me chamou.
– ei – a mulher disse. – vem beber um copo comigo.
Devia ter uns trinta e poucos anos, cabelos castanhos escorridos, unhas pintadas, o vestido florido com uma das alças caindo. Tinha o rosto bonito. Estava sentada em uma das mesas, com um copo de cerveja à sua frente. Na fachada do bar, em cimento, o nome do supermercado Iguatemi.
– agora não posso – respondi. – Preciso resolver umas coisas.
– resolve depois.
– são urgentes.
– vou esperar você voltar – ela falou, dando um gole.
Não encontrei Hollywood na banquinha. Comprei um Broadway, que me deixa com um pigarro do caralho, e esperei o homem trocar o dinheiro. Depois fui até o carro, guardei as sacolas cheias de verduras, peguei a sanduicheira que quebrou com uma semana de uso e segui até a loja em que a havia comprado. O atendente disse que a garantia deles tinha expirado, mas que a empresa talvez trocasse por uma nova. Deixei a sanduicheira com ele e voltei para o carro. Bastava ligar o motor e voltar pra casa. Era simples, meia hora de estrada. Eu colocaria uma música boa e a viagem seria ainda mais rápida. Antes de ligar, no entanto, pensei na mulher. Era bonita. Estava mal cuidada, como muita gente, inclusive eu, mas manteve o sorriso largo e um brilho diferente nos olhos, feito esperança, embora também houvesse um tanto de desespero e de solidão. É isso o que os dias fazem com a gente, imaginei ela dizendo para alguém, ajeitando o cabelo castanho que caía sobre os olhos. Veio alguma coisa naquele momento, mas eu não sabia o que era. Nem tesão, nem simpatia. Acho que curiosidade. Saltei do carro, tranquei a porta e voltei.
Ela estava na mesma mesa, agora acompanhada de uma amiga, uma morena grande e larga que falava sem parar. As duas colocaram as máscaras, que estavam no queixo, quando entrei.
– sabia que ia voltar – ela disse.
Fui até a mesa ao lado da delas e me sentei.
– fiquei pensando na cerveja.
– Daiane, pega uma cerveja – ela disse pra amiga. – o homem aqui está com sede.
– isso aqui era um supermercado antes? – perguntei.
– parece que sim.
– e, agora, é um bar.
– um puteiro também.
– não tinha imaginado.
– tá na cara. quer ir lá atrás? Tenho um quarto.
– hoje não. vou ficar só com a cerveja.
– tá com medo de morrer…
– se estivesse, não me sentaria aqui.
– eu já me vacinei. Tenho pressão alta.
– não é isso. só quero beber a cerveja e ir pra casa.
Daiane voltou e colocou a cerveja nos copos, primeiro no delas e depois no meu. E nós começamos a conversar: sobre o calor da tarde, sobre uma amiga delas que estava intubada, sobre uma das músicas que tocavam na caixa de som. Eu às vezes fechava os olhos e me imaginava cantando a música, o efeito da segunda e terceira cervejas já batendo na porta, um náufrago se deixando levar pela corrente em busca de algo pra se segurar. Uma hora Daiane me encarou e disse:
– parece que você tá com a cabeça longe.
– Passei por um Wake up cool ever – disse -, e estava pensando no que tenho que fazer.
– que merda é isso?
– é quando a gente leva um susto, Daiane. E, depois desse susto, volta a se achar.
– levou susto, foi?
– alguns. Mas com todo mundo é assim.
– com todo mundo é assim – ela respondeu.
Daiane fez um brinde, vindo até a minha mesa e levantando o copo no ar. A outra, que se chamava Rosália, fez o mesmo e eu automaticamente fiquei de pé e levantei o meu. Todos com a porra da máscara no queixo. E, naquele momento, um pouco porque eu já estava meio bêbado, aqueles copos passaram a ser a extensão dos nossos corpos e eles se encontraram e permaneceram por alguns segundos juntos, o barulho do vidro a tilintar naquela comunhão, em plena pandemia, em um puteiro com o nome de supermercado iguatemi. Olhei para a rua e, de onde estava, pude ver o sol começar a se pôr, o sol de Uruçuca, uma panela de ouro a reluzir sobre o teto das casas, e permaneci por um instante em silêncio, observando o céu mudar de cor, ficando abóbora e cor de rosa, depois roxo e azul, até que enfim o sol se transformou em uma pequena curva branca no horizonte e o céu ficou escuro e a noite chegou. Eu nunca as tinha visto, mas não importava. Era como se estivesse entre amigos, gente que se entendia porque se conhecia há muito tempo, mesmo sem lembrar, e eu só precisasse ficar mais um pouco ali. Ou, foi o que pensei na hora, era também como se nós três, eu, Rosália e Daiane, tivéssemos de alguma forma burlado o tempo e de repente voltado a qualquer fim de tarde em 1976.
Rodrigo Melo é escritor; publicou Jogando dardos sem mirar no alvo (Mondrongo, 2016), O sangue que corre nas veias (Mondrongo, 2013), Enquanto o mundo dorme (Penalux, 2016) e Riviera (Mondrongo, 2020).